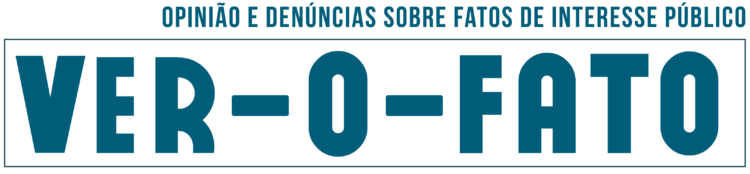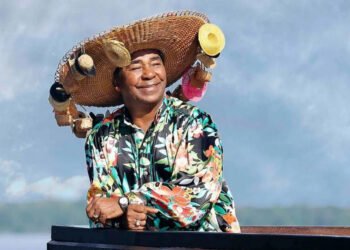Existem, hoje, em Belém, nada menos do que 145 pontos críticos de alagamento, segundo dados divulgados recentemente, pela Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana da cidade. O número é impressionante.
Mas, se deve atentar para a palavra críticos inserida na qualificação destes alagamentos. Porque sem esta especificação, o número de alagamentos apareceu muito maior, em 2013, divulgados pela Secretaria Municipal de Saneamento: 650.
Para enfrentar esta tragédia, Belém, nos anos de 1800, aterrou o Alagado do Piri.
No período da Segunda Guerra Mundial, criou comportas dentro da cidade.
Nos últimos anos, o Projeto de Macrodrenagem consumiu verbas altíssimas.
E o problema permanece.
Porque é parte intrínseca da cidade
Desde o início de sua História.
Em 1616, quando chegou à região do Gram-Pará, Francisco Caldeira Castelo Branco deveria ter escolhido um sítio para implantar Belém que fosse elevado, arejado.
E, que facilitasse o crescimento do povoado no futuro.
Desde o século anterior, orientações oficiais para a escolha de locais apropriados aos novos núcleos populacionais a serem implantados nas colônias portuguesas da América vinham sendo dadas aos militares de Portugal.
Nos anos de 1500, o rei Dom Manuel I escreveu para o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, determinando que qualquer sítio a ser escolhido deveria ter altitude suficientemente elevada para permitir a visão da aproximação de eventuais invasores de outros países.
Mas não só isto.
Também deveria ter “bons ares”.
E sua localização deveria facilitar a expansão física do novo povoado.
Contudo, a adequação do sítio escolhido por Castelo Branco logo foi questionada.
Tanto quanto à defesa da ocupação portuguesa da região.
Como quanto à facilitação do crescimento de Belém.
O lugar em que foi levantado o Forte do Presépio fez o historiador Roberto Southey duvidar das virtudes de estrategista militar de Castelo Branco, em sua História do Brasil, escrita entre os anos de 1810 e 1819.
Já a preferência dele por aquele sítio, do ângulo dos cuidados impostos à implantação de um novo povoado, tornou-se inaceitável para as autoridades portuguesas.
A inadequação da escolha era evidenciada pelo terreno, ao lado do forte, no qual havia uma ladeira.
E, depois dela, um imenso mangue.
Lembra Meira Filho, em “Evolução Histórica de Belém no Gram-Pará” (1976) que o mangue “largo, argiloso, marginava a fortificação e, em seu aspecto alagado, parecia envolver toda a área da cidade”.
Tão extensas eram essas baixadas pantanosas, emoldurando a sede da capitania, com suas águas mortas, quase a atingir a cota de um metro, no inverno, que os moradores pensavam que o povoado estivesse assentado numa ilha.
Uma pergunta se tornou inevitável: se o forte fosse atacado para onde os portugueses iriam recuar?
O geógrafo Gilberto de Miranda Rocha, em “Geomorfologia Aplicada ao Planejamento Urbano: as Enchentes da Área Urbana de Belém” (1987) é categórico: o sítio não apresentava condições favoráveis ao futuro desenvolvimento do povoado.
Especialista em Geomorfologia de Belém, Gilberto esclarece: a conformação do sítio inicial da capital do Pará, agravada pelo efeito retentivo e estagnante da maré do rio Guamá é o que cria, ainda hoje, dificuldades para o escoamento do grande volume de águas de chuvas que cai sobre a cidade.
Com isto, o povoado inicial de Belém terminou se desenvolvendo sobre os leitos dos igarapés.
Isto provocou a diminuição ou o desaparecimento da profundidade dos canais destes cursos de água.
O que, por sua vez, reduziu a capacidade de eles suportarem os volumes das águas a serem escoadas.
Gilberto concluiu: é provável que a recolocação do povoado inicial “tivesse sido possível e recomendável“, no século XVII, quando se iniciou o crescimento de Belém.
De fato, em 1619, apenas três anos após a instalação do povoado, sua transferência para outro local já havia sido ordenada.
Tanto pelo monarca português, como pelo governador-geral do Brasil.
Percebe-se isso através da leitura da carta que Jerônimo de Albuquerque, então, ocupante do cargo de capitão-mor do Gram-Pará, enviou ao rei no dia 9 de maio de 1619.
Na carta, Albuquerque diz: “encomendou-me também o governador muito buscasse outro sítio pelos grandes inconvenientes deste, e com a ordem que achei de Vossa Majestade na mesma matéria fiz diligencias“.
As diligências a que Albuquerque se refere levaram-no a encontrar um sítio, segundo ele, mais adequado, cuja localização, tal como feita na carta, é a seguinte: “em uma paragem a quatro léguas daqui para o mar, que chamam de Ponta de Mel“.
Explica Meira Filho (1976): “o pretendido lugar da Ponta do Mel ficava situado no Pinheiro, exatamente onde se achava o Cruzeiro, em frente à baía, hoje bairro preferencial da atual Vila de Icoaraci“.
Em 1633, uma segunda tentativa de tirar o povoado daquele sítio foi empreendida pelo, na época, governador do Maranhão/Gram-Pará, capitão-general Francisco Coelho de Carvalho.
Ele quis levar o povoado para o lugar citado por Roberto Southey como o mais adequado à defesa da região: a Ilha do Sol, chamada depois de Colares, na Baía do Sol.
Houve, ainda, uma terceira tentativa de mudar o povoado feita pelo governador André Vidal de Negreiros, em 1655.
Desta vez, a de levar Belém para a Ilha de Joannes (Marajó).
Todas as três iniciativas fracassaram porque esbarraram na insistência dos moradores em permanecer no sítio primitivo.
Surpreendentemente, no entanto, dois dos três lugares cogitados como alternativas para a localização do povoado – a Baía do Sol e a Ilha de Joannes – são, também considerados inadequados por Gilberto (1987).
Ele afirma: “os sítios escolhidos apresentavam condições geomorfológicas semelhantes ao atual e ambos se localizavam na região delta/estuário onde se faz presente periodicamente a ocorrência das inundações“.
Assim, por não ter sido afastada, aquela tétrica conjugação – alta pluviosidade, marés elevadas e solo com baixa declividade -, conspira, há séculos, contra os habitantes de Belém, tendo forçado a expansão da cidade na direção de terrenos de cotas mais altas.
Isto, contudo, não evitou o surgimento de muitas moradias em áreas alagadas, destinadas à grande parte da população, aquela constituída de pessoas de baixa renda, as sempre mais atingidas.
A localização de Belém se tornou uma daquelas questões que sempre ressurgem.
Até numa obra publicada em 1984, por Ricardo Borges, político e intelectual do Pará, se pode encontrar um artigo com título de “Mudança de Belém”.
O artigo, ele, mesmo acentuando a impossibilidade de volta à antiga discussão, reconhece: “ainda murmura-se” sobre o assunto.
E, acrescenta, esporadicamente, surgem “queixumes e reclamações” contra a localização de cidade.
Oswaldo Coimbra é escritor e jornalista
Translation (Tradução)
Why Does Belém Suffer from So Many Flooding Hotspots?
Today, the city of Belém has no fewer than 145 critical flooding points, according to recent data released by the Municipal Secretariat for Urban Maintenance and Conservation.
The number is striking.
However, attention must be paid to the word critical in the classification of these flood zones. Without this specific qualification, the number of flooding points was much higher back in 2013, when the Municipal Sanitation Department reported 650 locations.
Over the centuries, Belém has made several attempts to deal with this tragedy. In the 1800s, the Piri Swamp was filled in. During World War II, floodgates were built within the city. In more recent years, the Macrodrainage Project consumed vast amounts of public funding.
Yet, the problem persists.
This is because flooding is an intrinsic part of the city — a condition that has existed since its very beginning.
In 1616, when Francisco Caldeira Castelo Branco arrived in the region of Grão-Pará, he should have chosen a higher, better-ventilated site to establish Belém — one that would facilitate the future growth of the settlement.
Since the previous century, Portuguese military officers had been given official guidelines on how to select appropriate locations for new settlements in the colonies.
In the 1500s, King Dom Manuel I wrote to Brazil’s first Governor-General, Tomé de Souza, ordering that any new site chosen should have enough altitude to allow the early detection of potential invaders from other countries.
But not only that.
The site should also have “healthy air,” and its location should support the physical expansion of the new settlement.
However, the suitability of the site chosen by Castelo Branco was soon questioned — both in terms of the defense of the Portuguese occupation and the feasibility of Belém’s growth.
The location where the Presépio Fort was built led historian Robert Southey, in his History of Brazil (1810–1819), to doubt Castelo Branco’s military strategic skills.
From the perspective of urban planning, Castelo Branco’s preference for that site became unacceptable to Portuguese authorities. The inadequacy of the chosen site was evident: next to the fort there was a slope, and beyond it, a vast mangrove swamp.
Meira Filho, in Historical Evolution of Belém in Grão-Pará (1976), noted that this swamp was “broad, clayey, surrounding the fortification, and in its flooded state seemed to envelop the entire city area.”
These extensive swampy lowlands framed the town center with stagnant waters that, during the rainy season, could rise to nearly a meter — so much so that residents thought the settlement stood on an island.
An inevitable question arose: if the fort were attacked, where would the Portuguese retreat?
Geographer Gilberto de Miranda Rocha, in Applied Geomorphology and Urban Planning: The Floods of Belém’s Urban Area (1987), was categorical: the site did not offer favorable conditions for the future development of the settlement.
Specialized in Belém’s geomorphology, Gilberto explained that the original location of the city, worsened by the tidal stagnation effect of the Guamá River, continues to create difficulties for the drainage of the heavy rainfall that falls over Belém.
As a result, Belém expanded over the beds of small rivers and streams (igarapés), leading to their silting or disappearance, and reducing their capacity to drain water.
Gilberto concluded that relocating the original settlement “would probably have been possible and advisable” in the 17th century, when Belém began to grow.
In fact, in 1619 — just three years after the village was established — its relocation had already been ordered by both the Portuguese king and the Governor-General of Brazil.
This is clear from a letter written by Jerônimo de Albuquerque, then Captain-Major of Grão-Pará, to the king on May 9, 1619. In the letter, Albuquerque states:
“The governor also instructed me to seek another site due to the many inconveniences of this one, and according to Your Majesty’s orders on the matter, I made the necessary efforts.”
Albuquerque found a location he considered more suitable: “about four leagues from here towards the sea, in a place called Ponta de Mel.”
According to Meira Filho (1976), this place was in Pinheiro, exactly where the Cruzeiro was located, facing the bay — now part of the Icoaraci district.
In 1633, a second attempt to relocate the settlement was made by Francisco Coelho de Carvalho, then Governor of Maranhão/Grão-Pará. He wanted to move it to Ilha do Sol (later called Colares), in Baía do Sol — a site Robert Southey also deemed the most suitable for defending the region.
There was even a third attempt in 1655, when Governor André Vidal de Negreiros tried to move Belém to Ilha de Joannes (Marajó Island).
All three initiatives failed due to the residents’ resistance to leaving the original site.
Surprisingly, however, two of the three alternative locations considered — Baía do Sol and Ilha de Joannes — were also deemed inadequate by Gilberto de Miranda Rocha (1987). He argued that these sites had similar geomorphological conditions to Belém’s current location and were in the delta/estuary region prone to periodic flooding.
Thus, the ominous combination of heavy rainfall, high tides, and low-slope terrain — never avoided — has conspired for centuries against Belém’s inhabitants, forcing the city’s expansion towards higher ground.
Even so, this did not prevent the emergence of many homes in flood-prone areas, especially for low-income populations — those most affected by these conditions.
The location of Belém has become one of those issues that periodically resurface.
Even in a book published in 1984 by Ricardo Borges, a politician and intellectual from Pará, there is an article titled Moving Belém. In it, Borges, while acknowledging the impossibility of reopening the old debate, admits that “the topic is still whispered about.”
And, from time to time, there are “complaints and grievances” about the city’s location.
*Oswaldo Coimbra is writer and journalist
(Illustration: Map of Belém’s flooding points, made by UFPa)